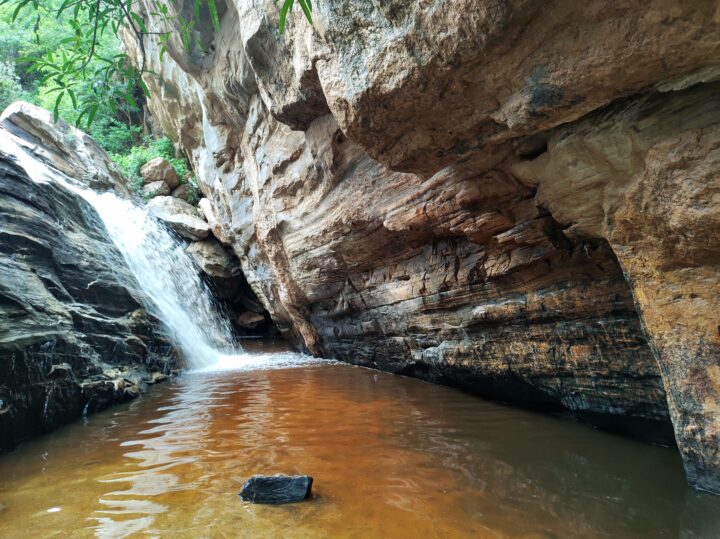Se você não estava na lua nos últimos dias, ouviu falar de um fenômeno que parou a internet chamado #Beychella, a volta de Beyoncé aos palcos após hiato de um ano. O aguardadíssimo retorno se deu no Coachella, um dos mais importantes festivais de música do mundo, que aconteceu entre 13 e 22 de abril na Califórnia/EUA. Muita gente não entendeu o que estava acontecendo. Por que tanto barulho? Por que tanta comoção? Por que todo mundo está falando disso? Apesar de achar que as dúvidas sobre a importância de Beyoncé para a cultura pop são primordialmente motivadas pela combinação entre racismo e machismo (nunca vi ninguém questionando os motivos do sucesso estrondoso do Coldplay, por exemplo), vou fazer um esforço e responder qual a razão de Beyoncé ser tão importante: é porque ela é negra.
Para os brancos mais afeitos à bolha de conveniência atávica da qual muitos são ciosos reféns, isso pode não fazer diferença alguma. Para nós negros, que crescemos idolatrando a loirice de Xuxa enquanto cultivávamos a impossibilidade de ser paquito ou paquita, amar Beyoncé é quase uma contestação política.
É uma libertação.
Em pouco mais de duas horas e meia de show, Beyoncé mostrou porque é Beyoncé: encarnou uma deusa africana num figurino que mesclava orixás com afrofuturismo; homenageou as universidades americanas que têm mais alunos negros que brancos; desafiou o status-quo americano com uma banda marcial negra; celebrou a solidariedade entre mulheres negras cantando com suas ex-companheiras de Destiny’s Child; e trabalhou um repertório no qual só entraram músicas que bebiam diretamente na fonte da black music.
Quando jogou “Lift every voice and sing” (o hino oficial dos afroamericanos) entre os sucessos “Freedom” (“Eu mesma quebro minhas correntes”) e “Formation” (“Eu adoro meu nariz negro com narinas à la Jackson Five”), tudo isso para uma plateia primordialmente branca, a deusa deixou bem claro: é isso aqui que é coisa de preto.
Parece absurdo, mas até pouco tempo as pessoas pareciam ignorar que Beyoncé era negra. O branqueamento de estrelas pop já era um padrão na indústria em 2016, quando a deusa adentrou a final do SuperBowl (um evento feito para homens brancos que tem o título de maior audiência televisiva do mundo) cantando “Formation” com uma coreografia inspirada no Partido dos Panteras Negras — um dos mais importantes movimentos de empoderamento negro que se tem notícia.
Uma mulher negra cantando o orgulho de ser negra num evento feito para brancos? Aquilo era demais para o país que elegeu Donald Trump.
A reação veio em forma de uma campanha de difamação conhecida como #BoicotBeyoncé. Vale salientar que nesta apresentação de 2016, a deusa dividiu o palco com o cantor Bruno Mars e a banda Coldplay — mas ninguém se revoltou com os olhinhos azuis de Chris Martin e companhia.
O que poderia ser o início do fim acabou sendo um importante divisor de águas. Em vez de lutar contra a campanha, Beyoncé passou a vender camisetas oficiais com a hashtag #BoicotBeyoncé. Era como rir na cara dos racistas. A ação se completou com o lançamento do clipe oficial de “Formation”. Beyoncé escolheu New Orleans como cenário para falar de três coisas que nenhuma artista pop estava falando: escravidão, violência policial contra negros (especialmente os pobres) e feminismo negro. Tudo isso em fevereiro, o Mês da História Negra nos Estados Unidos.
Pra vocês terem ideia do tamanho da porrada que Beyoncé deu nos racistas, a música “Formation” abre com uma voz masculina perguntando “O que aconteceu em New Orleans?” Essa é a voz do youtuber Messy Mya, jovem negro e gay morto a tiros por policiais quando saía do chá de bebê do seu filho em 2010. O crime ocorreu após Mya fazer uma série de denúncias no Youtube contra o tratamento que policiais de New Orleans dispensavam a jovens negros e pobres. Junte os pontos.
É claro que antes de Beyoncé outras mulheres negras se destacaram no cenário da música por escancarar o racismo na tentativa de torná-lo uma discussão diária na sociedade. Lauryn Hill, Janet Jackson e Azealia Banks são apenas alguns bons exemplos de mulheres que não se curvaram diante do patriarcado e enfrentaram as regras da indústria para dizer o que pensam (mais recentemente temos Rihanna, SZA, Solange e muitas outras). Mas uma pequena coisa separa Beyoncé de suas predecessoras: o sucesso global. Quando a deusa entrou no SuperBowl cantando “Eu posso ser um Bill Gates negro em constução”, a carreira dela seguia o rumo clássico das outras divas pop (coreografias anatomicamente impossíveis, figurinos improváveis, muito bate-cabelo), mas ela já ostentava o título de maior diva pop da atualidade.
Nunca alguém que estava no topo da indústria tinha assumido um discurso político tão nitidamente pró-negritude quanto Beyoncé. E isso faz uma tremenda diferença. O alcance de suas ideias é incalculável, e isso faz com que mais e mais pessoas discutam o racismo enquanto aprendem sobre a cultura negra e sua importância pro mundo (muitas referências que ela vem jogando em seus trabalhos fazem com que eu passe horas no Google aprendendo mais sobre coisas que eu sempre devia ter sabido). Nenhum gigante da indústria pop havia tratado a cultura negra com tanta reverência.
Até então, apenas Madonna tinha tocado nas feridas da sociedade entre uma batida e outra na pista de dança. Com louvor, diga-se de passagem. Madonna abriu essa fenda no que antes era considerada uma indústria para um público acéfalo, cantando sobre temas até então proibidos nos sucessos radiofônicos, como aborto, sexo, homofobia, hipocrisia e feminismo. Sempre respeitosa com as questões sociais, Madonna também coalhou seus clipes e shows de diversidade racial. Foi importante, mas não foi o suficiente. Nós negros precisávamos de alguém como Beyoncé.
Eu cresci como um garotinho de classe média que não sabia que era negro — um dia desses eu choquei minha família ao dizer no almoço de domingo que éramos pretos, vejam vocês. A sociedade brasileira tem um jeito muito interessante de tratar afrodescendentes que não são pobres. A gente vira uma espécie de branco temporário, como se ganhasse um salvo-conduto para existir só por estarmos acima da linha de miséria. Branco pela força das circunstâncias. O “moreninho” da turma.
Contanto que a gente não se irrite quando alguém nos apelidar de picolé-de-piche ou nêga-maluca, tá tudo certo. Contanto que a gente ignore o apartheid social e não saia em defesa de negros pobres que vêm sendo massacrados num verdadeiro extermínio, tá tudo certo. Contanto que não ergamos nossas vozes e nos mantenhamos subservientes ao que os brancos denominam de comportamento normal, tá tudo certo. Ninguém vai nos ensinar sobre nossa ascendência e ancestralidade, sobre a cultura africana e as tentativas de apagá-la da História do Brasil, sobre religiões de matrizes africanas e a importância de suas mitologias para a formação de quem somos, sobre negros que mudaram o rumo da História e a necessidade de se inspirar neles.
Vamos aprender sobre Pedro Álvares Cabral, Pero Vaz de Caminha, Américo Vespúcio, Cristóvão Colombo (todos homens brancos europeus), mas vamos ignorar a existência de Zumbi, Dandara, Malcolm X, Martin Luther King Jr, Rosa Parks. Ninguém vai nos dizer que Machado de Assis era negro. Ninguém.
Vão nos ensinar a ter medo dos exus, a usar pomba-gira como insulto, a rir do candomblé em esquetes de humor no domingo à noite (um salve, Os Trapalhões!). Vão nos contar que os escravos foram libertados pela Princesa Isabel, a jovem branca que encerrava em si toda a bondade do mundo — e assim não nos contarão das lutas, da resistência, da guerra que foi travada para quebrar esses grilhões. Vão minimizar nossa existência e nos reduzir a uma piada (o negro de pau grande, a negra sensual, o negrinho engraçado, a negrinha atrevida). Vão fazer com que a gente ore pelos mortos do Holocausto, pelas vítimas do Onze de Setembro, pelos atingidos no atentado em Paris, mas nunca admitirão que o sequestro de negros na África para que sejam escravos no Brasil é um dos maiores genocídios da Humanidade — que foi seguido de uma implacável campanha de aniquilação das nossas raízes através da catequização católica e da marginalização de símbolos culturais como a capoeira e o samba. Vão tentar uma explicação pretensamente razoável para a existência de negros expoentes como Barack Obama, Joaquim Barbosa, Condoleeza Rice, como se tentassem explicar algo impossível de acontecer. Vão tentar perpetuar a opressão de maneiras mais sofisticadas que o chicote no pelourinho — e quando não der certo, que venha o cassetete, o pau de arara, a intervenção.
“Ela canta bem, mas grita muito”, “Tem umas músicas legais, mas nada que justifique o hype”, “Ela só faz sucesso porque o marido é dono de gravadora” são gentilezas que muitos dispensam a Beyoncé na tentativa de justificar racionalmente a presença de uma mulher negra no topo do mundo.
Para alguém como eu, que virou consumidor de música pop numa época em que Michael Jackson era demonizado sem direito à defesa, Tupac Shakur era preso e na sequência assassinado no que a mídia taxou rapidamente e superficialmente como briga de gangues, o Aerosmith levava todo o crédito pela até então inédita mistura entre rock e hip-hop com o hit “Walk this way” (que era, na verdade, do grupo de rap Run DMC) e o axé music emplacava um sucesso baiano atrás do outro sempre com cantores brancos à frente das bandas, Beyoncé nunca será apenas Beyoncé. Ela é a encarnação de até onde meu povo pode chegar quando rompe os grilhões, enfrenta os opressores e se orgulha de quem é.
Em comemoração ao #Beychella, decidi usar um turbante pela primeira vez. Fui para uma festa usando aquele belo pedaço de pano estampado na cabeça com a felicidade esfuziante de quem ostenta uma coroa. Nos últimos anos, vivi o gratificante processo de reencontrar minha negritude, desconstruir os esteriótipos racistas que estavam na minha cabeça e me orgulhar da história do meu povo, das batalhas que já vencemos e das lutas que ainda temos que travar para acabar com os efeitos nocivos do racismo. Neste sentido, assistir ao #Beychella foi como perceber pela primeira vez que sou negro o suficiente para celebrar minha ascendência africana. Para muitos, era apenas mais um show de música pop. Para mim, era um grito de liberdade. Eu não espero que você compreenda. Mas eu espero que você respeite.