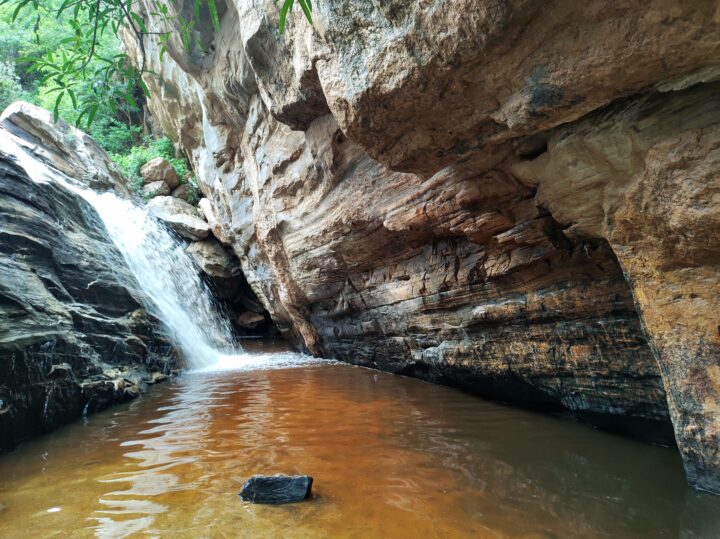No livro biográfico Too Much and Never Enough: how my family created the world’s most dangerous man (em tradução livre: “Demais ou Nunca é o Bastante: como minha família criou o homem mais perigoso do mundo”), a psicóloga Mary Trump, sobrinha do atual presidente norte-americano, afirma que seu tio, Donald, é um sociopata narcisista e mitômano, criado sem experimentar o amor paternal, obcecado por atenção e que só ganhou destaque na família e nos negócios quando o irmão mais velho, alcoólatra, não aguentou a pressão paterna e se suicidou aos 42 anos. Herdando os negócios do pai, um então jovem playboy, Donald Trump, trilhou o caminho que o transformou de figura tarimbada, como socialite nas colunas sociais de jornais, a presidente, eleito pelo Partido Republicano, criando a imagem de um bem sucedido homem de negócios do ramo imobiliário, que enriqueceu por esforço próprio, dentro da perspectiva do sonho americano do self made man, típico do discurso liberal-capitalista.
Não é à toa que, não obstante ser uma biografia controversa e repleta de polêmica, a vida de Trump contada por uma parente próxima já deu o que falar. A publicação rendeu vários processos judiciais de familiares do presidente, tentativas de proibição da circulação do livro e a pecha de ser uma mera lavagem de roupa suja. Entretanto, o livro da sobrinha de Trump é útil pois acaba por explicar o comportamento de um presidente que se recusa a reconhecer a vitória na eleição de seu oponente, o democrata Joe Biden, que no último sábado, um histórico dia 7 de novembro de 2020, foi aclamado o 46º presidente eleito dos Estados Unidos da América. Na retórica inflamada que sempre caracterizou sua atuação política, Trump rapidamente atacou não apenas o sistema eleitoral, mas toda a democracia norte-americana, reconhecendo-se como único vencedor do processo eleitoral, numa votação recorde, com mais de 70 milhões de votos, e que todos os votos obtidos no colégio eleitoral, em estados-chave, onde Biden ganhou a eleição, eram resultado de fraudes, que ele iria comprovar e questionar na Suprema corte, insinuando claramente que a decisão popular não valeria nada e que ele resolveria tudo no tapetão.
O recurso de se vitimizar, considerar-se o único líder e acenar para a multidão fanática de seus seguidores, antagonizando os adversários como inimigos, na retórica populista do nós contra eles, é que notabilizou todos os quatro anos da gestão de Donald Trump, na presidência americana, num negacionismo que se recusou, até mesmo, a reconhecer a nocividade de uma pandemia como a do novo coronavírus, valendo-se do aceno a uma América profunda e rural imersa em desemprego, ignorância e conspiracionismo. A América em primeiro lugar, de Trump, é a América nacionalista, xenófaba, racista e misógina que, segundo ele, prometeria restaurar a grandiosidade de um Estados Unidos do passado, de seus pais fundadores, a resgatar o desenvolvimento, abolir o desemprego e garantir mais renda aos trabalhadores, mesmo que ao custo de rejeitar a ciência, os direitos humanos e o bom senso. O mesmo discurso de uma direita populista e autoritária que se propagou no mundo nos últimos anos e que, com as bênçãos de oportunistas, gurus do reacionarismo, como um certo Steve Bannon, além das picaretagens de youtubers travestidos de filósofos como Olavo de Carvalho, rendeu frutos, com a eleição de governantes como o presidente brasileiro. Antes, a partir de, ou com Trump é que líderes autoritários puderam se fortalecer, como Erdogan na Turquia, Netanyahu em Israel e Òrban na Hungria, ou demagogos de extrema direita ganharam eleições, como Boris Johnson na Inglaterra, Duterte nas Filipinas e Bolsonaro no Brasil. Sem sombra de dúvidas, na segunda metade da década que passou, Donald Trump tornou-se o maior e mais poderoso líder populista da humanidade, com seu discurso conservador-autoritário, a chefiar a nação mais poderosa do planeta, militarmente e economicamente, e iniciar uma política externa nunca dantes vista nas relações internacionais para um presidente norte-americano, especialmente no confronto aberto com a China, o que fez com que o ex-embaixador e diplomata, Rubens Ricupero, o qualificasse como um dos poucos presidentes dos Estados Unidos, além de Roosevelt e Reagan, que realmente deixaram um legado (para o bem ou para o mal), criando novos paradigmas de governo.
Em “Os Fundamentos da Liberdade”, obra clássica de 1972, de autoria do professor austríaco Friedrich August Hayek, economista, ganhador do Nobel, traçou-se as linhas divisórias do pensamento político liberal, sendo considerado este livro por muitos, com suas engenhosas categorias políticas, como um dos manuais do liberalismo no século XX. No posfácio de sua obra, ao explicar porque não se considerava um conservador, Hayek estabelece uma didática divisão entre liberais, conservadores e socialistas, considerando estes dois últimos muito semelhantes em autoritarismo. Por conta do medo da mudança, os conservadores por vezes valem-se dos poderes de governo para, de forma autoritária, resgatarem aquilo que eles consideram o mundo ideal. Os liberais, por sua vez, pragmáticos, seriam menos suscetíveis de recorrer a pauta da ordem, dos costumes e do saudosismo do passado, defenderiam direitos individuais, principalmente, o pluralismo, enquanto princípios, e, como critério para a prosperidade, elegeriam o multilateralismo global como regra nas relações econômicas internacionais.
Ao se eleger, Trump rasgou os princípios básicos do liberalismo, voltando-se para um nacionalismo tosco desde sua primeira campanha eleitoral que derrotou a candidata democrata Hillary Clinton, ao prometer um país muito mais voltado para os americanos do que para o mundo. A nova América prometida por Trump era a América branca, loira e muitas vezes acima do peso, que em muitas ocasiões achava que a capital do Brasil seria Buenos Aires.
Justamente com essa proposta conservadora de restaurar uma América branca e próspera, que Trump entabulou o seu discurso. Trump simbolizava a ordem, mais do que mercado, tão bem quisto aos liberais, e foi nessa visão de ordem, sob o ponto unilateral do americano médio e conservador, que, em sua gestão, o presidente americano virou suas costas para acordos climáticos tripudiando do aquecimento global, ao abandonar o protocolo de Paris. Além disso, ele rasgou o multilateralismo, deixando a Onu e até mesmo a Otan em segundo plano, em acordos bilaterais duvidosos com a Rússia e a Coreia do Norte, além de demonizar a China, numa guerra comercial que deu mais prejuízos do que lucro para seu país. Contra a China valia a pena, inclusive, utilizar o Brasil, manipulando o governo brasileiro, de um subserviente Bolsonaro, num abraço de afogados a sacrificar seu progresso no sistema de comunicações, ao travar as negociações de aquisição da tecnologia 5G, da gigante e bilionária empresa chinesa Huawei, o que poderá contribuir para afundar as economias dos dois países. Sem ver, muitos norte-americanos, defensores do capitalismo, não perceberam que estavam entregando sua economia a um presidente que, enquanto empresário, revelou-se um péssimo pagador de impostos, além de contrair dívidas trabalhistas que nunca pagou a seus funcionários, e não ter habilidade alguma para estabelecer negócios, principalmente em relações internacionais. Aos poucos, no âmbito externo, Trump estava isolando ainda mais seu país, correndo o risco de transformar os Estados Unidos num pária internacional.
Durante seu governo, Trump tentou se vender como um não político; ou ao menos um sujeito fora da política convencional, uma vez que, diferente de Biden, não exerceu mandatos eletivos anteriores, veio da iniciativa privada e do show business, famoso no início do século na televisão a partir de um reality show, onde demitia postulantes a CEOs de sua empresa a bel prazer. Foi justamente com a crise de emprego resultante das promessas não cumpridas da globalização, a emergência da China como ator global e a permanência de uma América profunda do meio oeste americano ignorante, antiglobalista e rural, que Trump montou seu feudo. A utilização maciça da internet, a inauguração de uma era em que o governante se comunicava com o povo não mais por pronunciamentos oficiais e sim pelo twitter, e, principalmente, o emprego maciço de fake news nas redes sociais, construiu-se todo o capital político daquele que, agora, prefere jogar golfe e acionar seus advogados, do que aceitar a derrota, deixando permanentemente mobilizada uma legião inflamada de seguidores, entre supremacistas brancos, trabalhadores evangélicos desempregados e latinos antiesquerdistas, a transformar os Estados Unidos num permanente e polarizado campo de batalha ideológico.
Trump só foi o que foi porque, assim como outros líderes autoritários, em diversas partes do mundo, surfou a onda da nova direita, onde o populismo extremista e nacionalista pareceu conquistar o voto conservador. O culto à autoridade de que falava Hayek, como principal elemento da tradição conservadora, parecia atrair um eleitorado disposto a eleger líderes fortes, disruptivos, pouco afáveis e até grosseiros (quem é que se lembra da célebre cena de um Trump rejeitando um aperto de mão de uma desnorteada chanceler Angela Merkel, durante uma coletiva com a imprensa?). A busca de um líder que representava o ódio à velha política na falsa dicotomia do nós contra eles, tinha encontrado no magnata loiro topetudo o seu melhor referencial. Nesse sentido, o discurso liberal de apelo aos direitos individuais e culto à liberdade, pouco tinha a oferecer a uma multidão conservadora ávida por ter seus empregos e seu antigo modo de vida de volta.
Citando obra mais recente, no seu livro “O povo contra a democracia”, o alemão Yascha Mounk, jovem professor da Universidade John Hopkins, com doutorado em Harvard, diz que a democracia liberal, aquela das Constituições, que protegeria as riquezas, assegura um bom governo, ao mesmo tempo que conferiria direitos individuais, colapsou desde os anos 1960 e 1970, pela desconfiança crescente da maioria da população com a classe política. Disso derivou um período de estagnação, não superado pela globalização e pelo projeto do neoliberalismo, ressuscitando o discurso nacionalista (aquele da “América em primeiro lugar”, lembram?), e uma visão de mundo em que aqueles que não foram contemplados pelo ideal de prosperidade liberal punham a culpa naqueles setores minotários (negros, mulheres, gays e imigrantes), que em década anteriores, teriam sido objeto da pauta política dos partidos e movimentos progressistas e liberais, obtendo, na visão dessas pessoas, “direitos demais”.
Paradoxalmente criado no mercado e beneficiado pelo capitalismo, no seu extremismo populista Trump rejeitou a pauta liberal de hospitalidade diplomática, abraçou a xenofobia ao defender e iniciar a construção de um muro na fronteira com o México, colocando imigrantes ilegais em gaiolas, separando pais de seus filhos, e deixando muitas crianças meses a fio em alojamentos antes de serem deportadas. Contrariamente ao projeto global de ampliar mercados por meio das trocas culturais, Trump insultou refugiados que vinham do Haiti ou da África chamando suas nações de “países de merda”. As rusgas com a União Europeia eram frequentes, culminando com o apoio do presidente americano ao Brexit do Reino Unido, aliando-se ao primeiro-ministro, Boris Johnson. Dessa forma, a presidência de Trump acabou se revelando um problema, até mesmo um transtorno para o projeto capitalista global. Era necessário colocar a economia nos eixos com diplomacia e não com truculência. Negociar acordos dentro e fora do país, e desafiar o inimigo chinês de forma mais sutil e engenhosa, com mais conversa e menos biquinho na boca e cenho franzido. É aí que entra Biden.
Alguns analistas da política podem dizer que não foi Biden quem ganhou, mas Trump quem perdeu. De qualquer forma, a vitória de Joe Biden, nos Estados Unidos em crise foi beneficiada por um fator histórico significativo, que responde por uma palavra: coronavírus. A total inabilidade de Trump em lidar com a pandemia, que rapidamente não só matou gente, como corroeu a economia, mostrou que o negacionismo populista, de pregar menos isolamento social, alegar que uso de máscaras era escolha individual ou mesmo repetir o que certo presidente brasileiro disse, que a Covid era só uma “gripezinha”, custou muito caro ao mandatário americano derrotado. Em sua campanha, os Democratas de Biden souberam aproveitar as idas e voltas de um presidente boquirroto e arrogante, que não unificou a nação enquanto o vírus galopava, contaminando milhões, jogando a responsabilidade para aflitos governadores, que não sabiam se fechavam as ruas, fechavam a economia já na sarjeta, ou as duas coisas. Deu no que deu.
O coronavírus deu sua última mãozinha na ascensão de Biden e no empurrãozinho ladeira abaixo de Trump, por conta de firmar a estratégia eleitoral do voto antecipado. Como nos Estados Unidos, dependendo da legislação de cada estado, o voto pode ser feito pelo correio dias (ou até meses) antes da eleição, os democratas de Biden orientaram seu eleitorado a votar desta forma para evitar aglomerações e os riscos de contágio de Covid, conseguindo que uma massa de milhões de votos fosse feita de forma a garantir a virada do candidato democrata nos estados da Geórgia, e na decisiva Pennsylvania. Foi o tiro de misericórdia na candidatura de Trump.
Outro fator que assegurou a vitória de Biden foram as revoltas raciais. Ignorando o potencial moblizador de movimentos como o Black Lives Matters (Vidas negras importam), o presidente Trump preferiu chamar a polícia e a guarda nacional para reprimir protestos, além de oferecer um discurso dúbio para supremacistas brancos, reaçando nele a pecha de racista ou, no mínimo, insensivel às lutas raciais, após o assassinato do segurança negro George Floyd. O Partido Democrata soube canalizar isso, colocando espertamente como candidata a vice de Biden, a senadora californiana Kamala Harris, uma negra, filha de imigrantes, que rapidamente foi às ruas unir o voto negro, além do eleitorado feminista, que, escancaradamente, foram para Biden, consolidando uma eleição marcada pelo voto racial e de gênero.
Apesar de taxado por esquerdista por 10 entre 10 militantes bolsonaristas, Biden nem de longe simboliza um candidato ideal para a esquerda. Pelo contrário, no decorrer de sua extensa carreira política que já dura 50 anos, o presidente eleito teve posturas dúbias, quando não reacionárias, enquanto senador, votando medidas que permitiam o encarceramento da população negra, além de apoiar guerras iniciadas por presidentes republicanos. Tudo indica também que o presidente eleito é um plagiador compulsivo de discursos, bem como já foi acusado de assédio sexual. Entretanto, Biden recuperou a forma de fazer política da democracia liberal de firmar mais acordos com a proposta de unificar demandas e universalizar direitos, e não de polarizar, ou antagonizar inimigos. Ao invés de nós contra eles, em seu lugar estava o american people no discurso de vitória do eleito, e por mais que muitos achem demagógico, esse discurso de governar para todos, por séculos tal argumento cola em todas as audiências. Afinal, mesmo para os eleitores que prefeririam o socialista senador de Vermont, Bernie Sanders, do mesmo partido, derrotado nas primárias democratas, Biden soube incorporar o anti-Trump e, para banir do poder um populista, nada melhor do que eleger um político moderado tradicional, defensor do capital, é verdade, mas que também defende os direitos humanos e o respeito às liberdades individuais, principalmente das minorias. Não deixa de ser um alívio esse respiro de liberalismo, no lugar de autoritarismo.
Biden retoma a democracia de partidos, com menos apelo a uma massa de seguidores ensandecidos nas ruas e mais diálogo pela formação de maiorias parlamentares no Legislativo, numa eleição em que o Partido Democrata ainda pode ter a maioria no Congresso, tanto na Câmara dos Representantes quanto no Senado. Enquanto isso, um claudicante Trump, questionado dentro de seu próprio partido, deve dar trabalho até o dia 20 de janeiro, data em que ainda pode se retirar da presidência de forma honrosa, reconhecendo a derrota e entregando o poder ao seu sucessor, ou pode ser conduzido pela polícia até a porta da saída da Casa Branca, apagando de vez as luzes de seu triste papel na história.